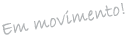Énia Lipanga

Nasci em Maputo, no bairro Luís Cabral, sou a filha mais nova e tenho 5 irmãos e 2 irmãs.
Tive uma infância agitada e cheia de amigos. Gostava de jogar à bola, saltar à corda e de contar histórias. A Énia teve de se tornar adulta muito cedo. Engravidei antes dos 18 anos e passei a ter uma grande responsabilidade como pessoa. A maternidade tornou-me uma mulher focada e que luta pelos seus sonhos, pois já não era apenas a Énia ou uma menina, era eu e o meu filho num contexto em que a gravidez me criou vários problemas de aceitação social. Tive apoio da minha família, sobretudo da minha mãe. O meu primeiro emprego foi como promotora de vendas e em 2013 tive o meu primeiro contacto com a área da comunicação, tendo trabalhado como jornalista na rádio Super FM e no portal Folha de Maputo, onde permaneci durante cerca de 5 anos. Actualmente, trabalho na área de vídeos comunitários na associação H2N, uma organização que através da comunicação procura melhorar as vidas das comunidades, dando ênfase nas áreas de nutrição e igualdade de género.
Comecei a escrever poemas quando frequentava o ensino primário (sexta e sétima classes), mas a minha escrita tornou-se de intervenção social quando passei ao ensino secundário e comecei a notar algumas diferenças de tratamento que me eram atribuídas por ser menina. Os meus textos sobre igualdade de oportunidades, violência sexual, entre outros, começaram naquela época e até hoje me é difícil parar de escrever estes gritos, pois ainda vivemos numa sociedade que olha a mulher como um mero instrumento de prazer e reprodução.
Uma das minhas maiores conquistas como poeta e ativista foi a criação do sarau Palavras são Palavras, evento mensal com 8 anos de existência, um palco onde todos e todas têm direito a voz e, através dele, várias poetisas foram impulsionadas a escrever mais sobre as suas lutas, pois já tinham (têm) onde apresentar e pessoas para as motivarem. Lancei no início de 2020 o meu primeiro livro de poemas, Sonolência e Alguns Rabiscos, um livro impresso a tinta e braile, para permitir a inclusão das pessoas com deficiência visual.
Uma grande Marco para mim e para Moçambique foi a aprovação da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras, pois antes podíamos lutar contra este mal e ficava em muitos casos sem efeito, mas hoje já temos um instrumento e várias plataformas de denúncia. Já assisti a vários casos de uniões forçadas e prematuras e não pude fazer muito, já que é algo culturalmente aceite, mas agora com a lei já consigo ajudar algumas manas que me procuram a contar estes casos. Como activista, me tornei também um veículo de denúncias pois várias mulheres têm se aproximado de mim e me confiado as suas histórias e juntas buscamos uma ajuda. Saber que com os meus textos consigo quebrar o silêncio de muitas mulheres vítimas de violência faz-me querer continuar. Em 2019, fui selecionada para fazer parte do primeiro fórum do grupo de ativistas sociais Uqhagamishelwano, que luta contra práticas sociais nocivas, grupo este de que hoje faço parte como representante de África. É um grupo que me permitiu ter um olhar amplo sobre o activismo e sobre as lutas na igualdade de género que são mundiais.
Penso que para que as mulheres tenham os seus direitos respeitados é necessário que se mude a mentalidade de muitos que a olham como um ser inferior e destinado ao lar (no nosso contexto), é necessário que se abra um espaço para que a mulher tenha direito a sonhar, lutar e alcançar os seus sonhos, para que tenha a liberdade de escolher o que ser e o que fazer em sociedade.