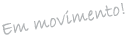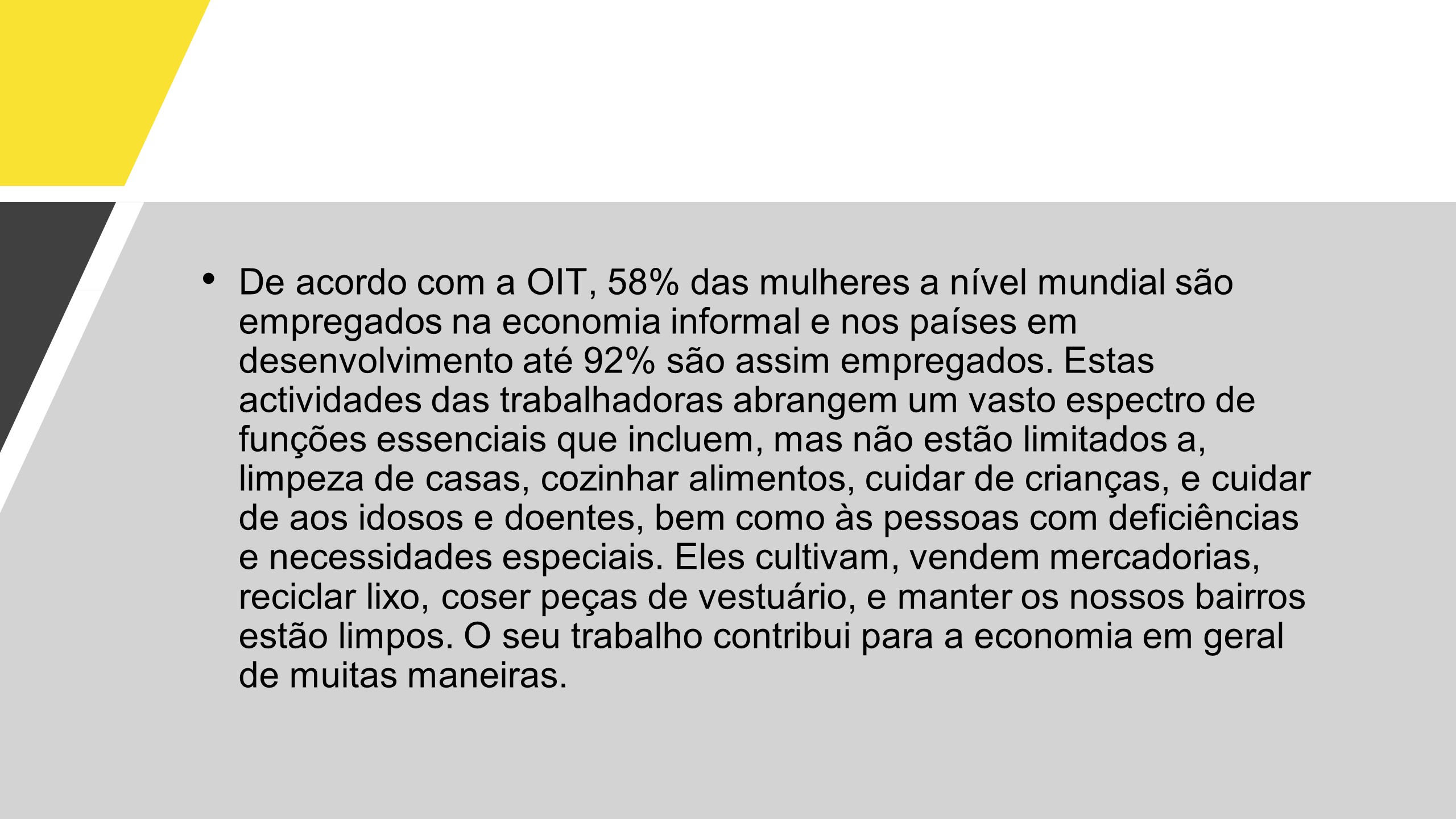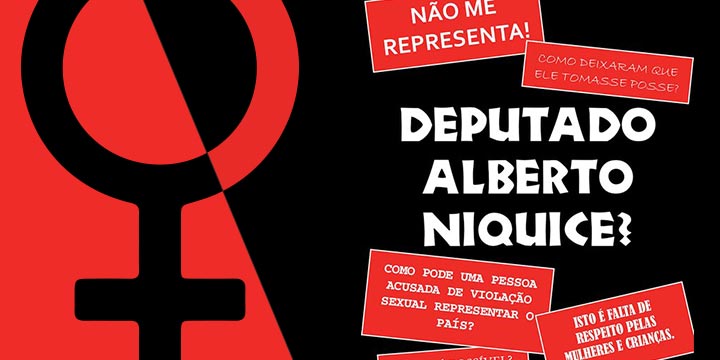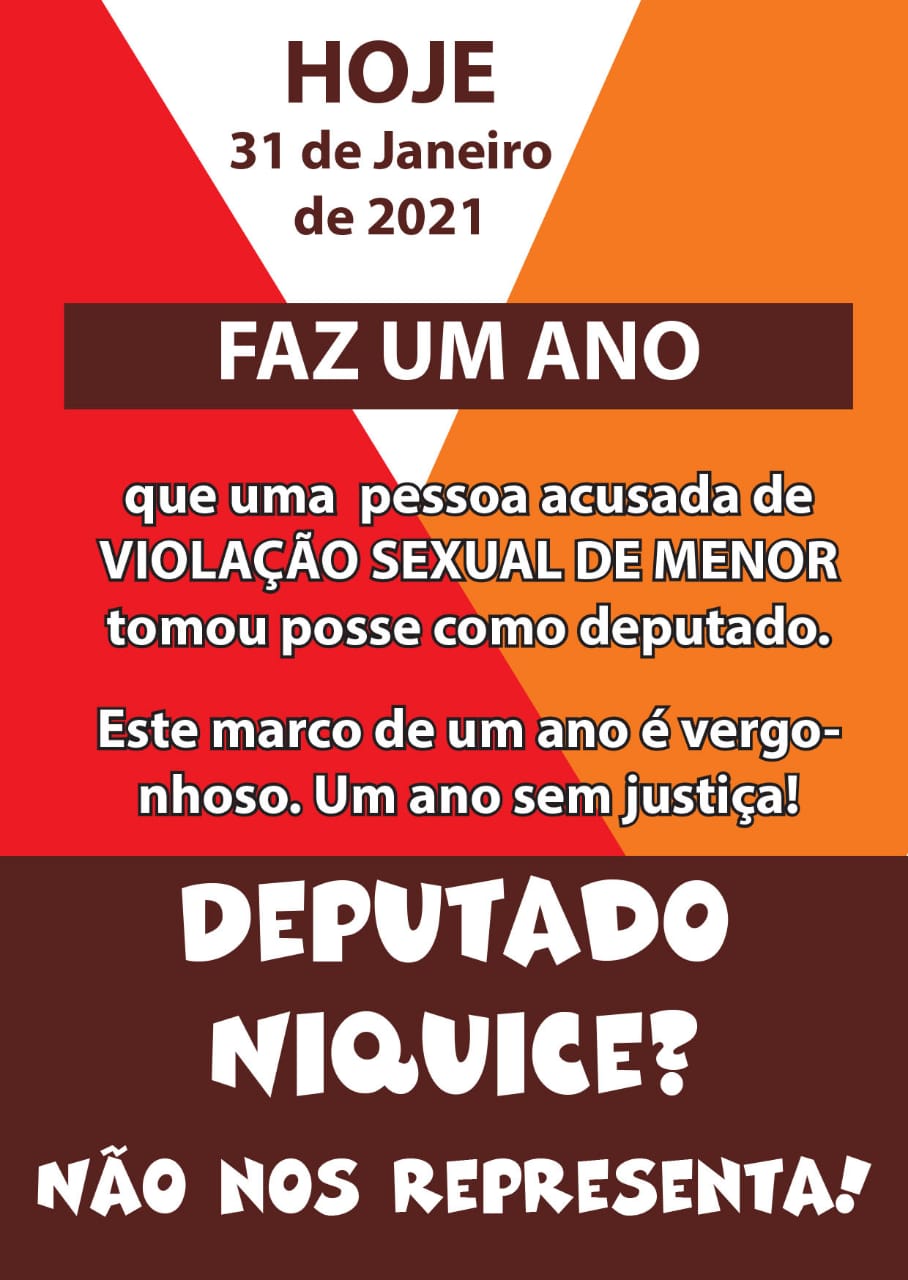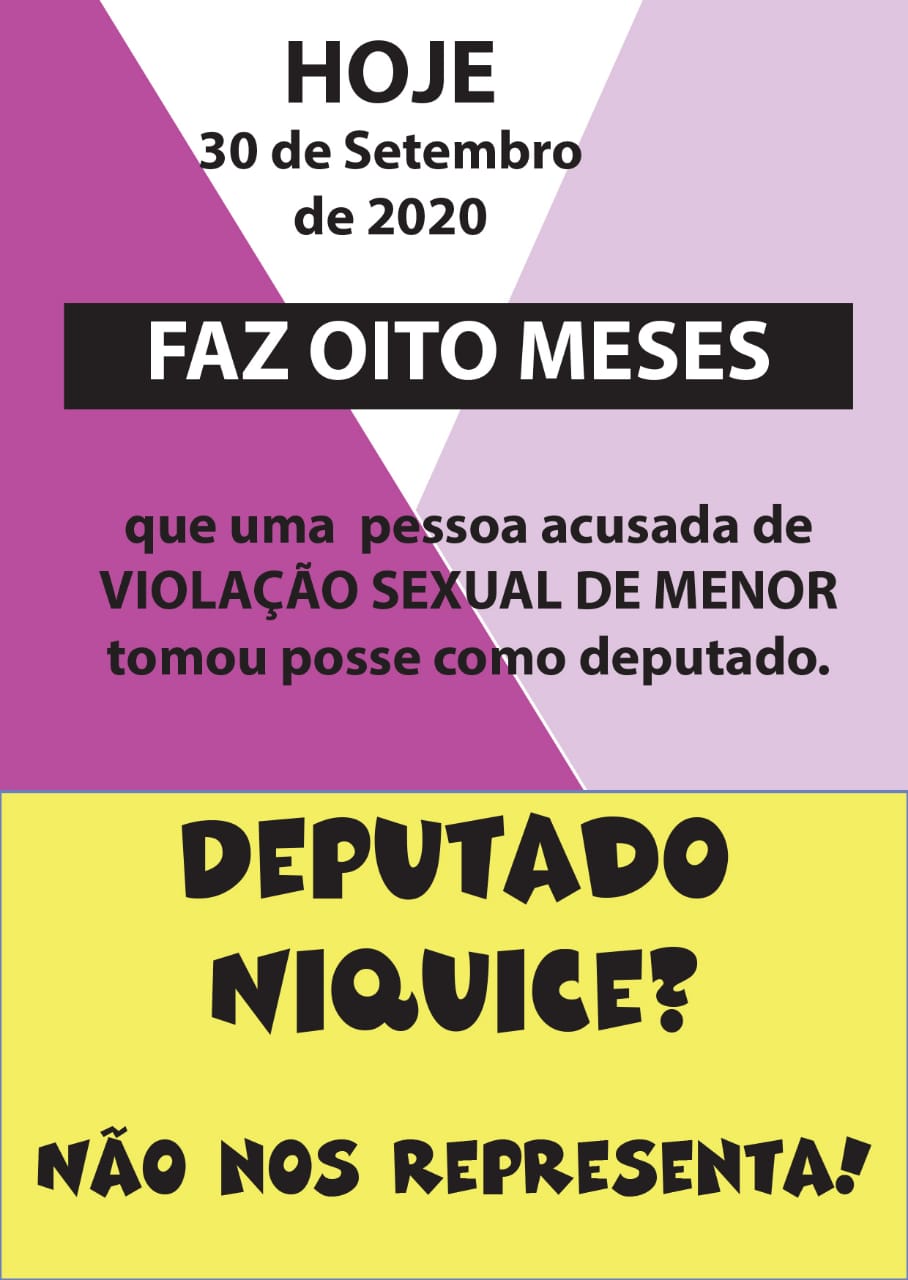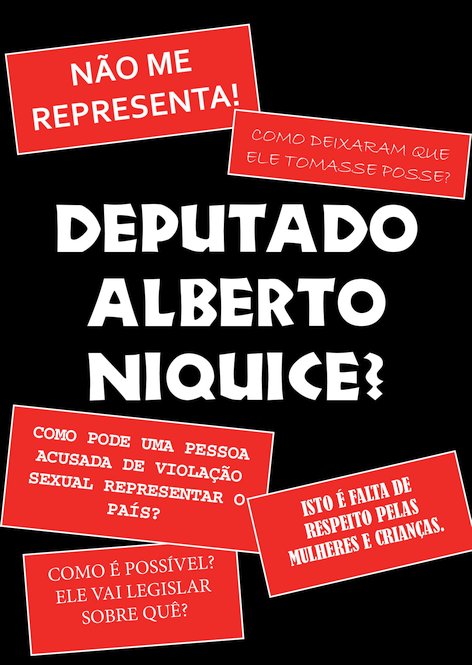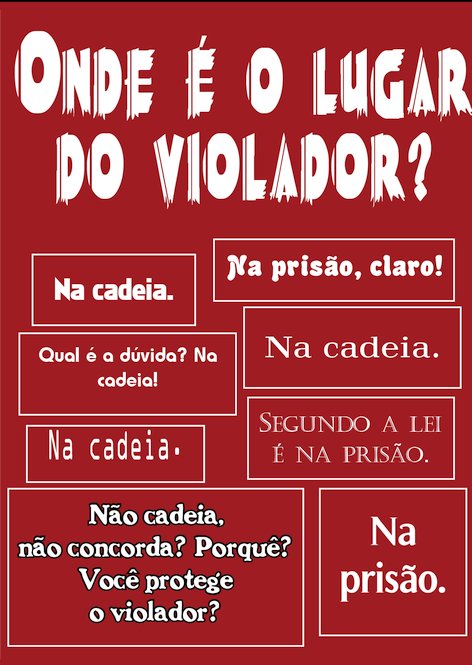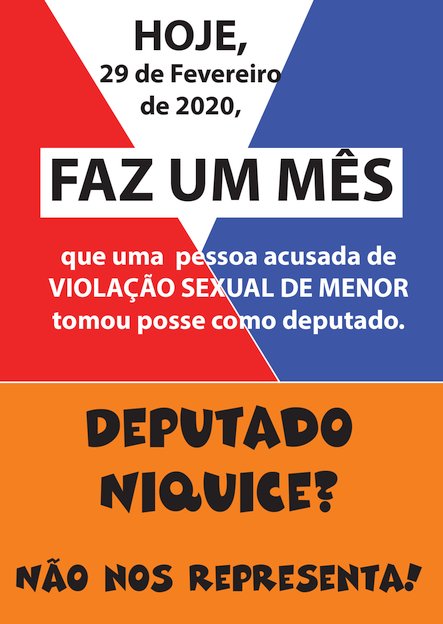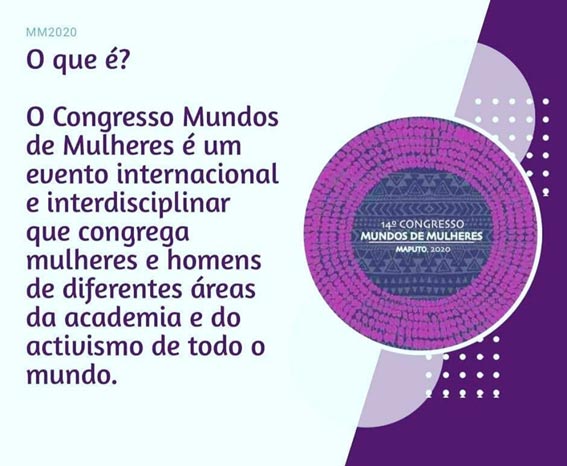DÁ INÍCIO A CAMPANHA DE 16 DIAS DE ACTIVISMO CONTRA A VIOLÊNCIA BASEADA NO GÉNERO DE 2020
Arranca esta Quarta-Feira a Campanha 16 dias de Activismo contra a Violência Baseada em Género de 2020, que visa aumentar os esforços para amplificar as vozes das mulheres trabalhadoras na economia informal. Em Moçambique, assim como em todo o mundo, a pandemia da COVID-19 trouxe consigo novas tensões que criaram dificuldades acrescidas às mulheres deste sector. MUVA, WVL Aliadas e parceiras convidam a tod@s para debater com Graça Samo, Erica Paiva e Jennifer Lhate. Junta-te a nós, esta Quarta-Feira, às 14h numa conversa live online, no Facebook MUVA e Youtube (MUVA Moz). Esperamos por ti!
#16Dias
#ACovidNaoNosDivide
#AllWorkMatters